



Realizada de 02 a 04 de setembro de 2024, no Sesc Cajuína, Teresina, PI.


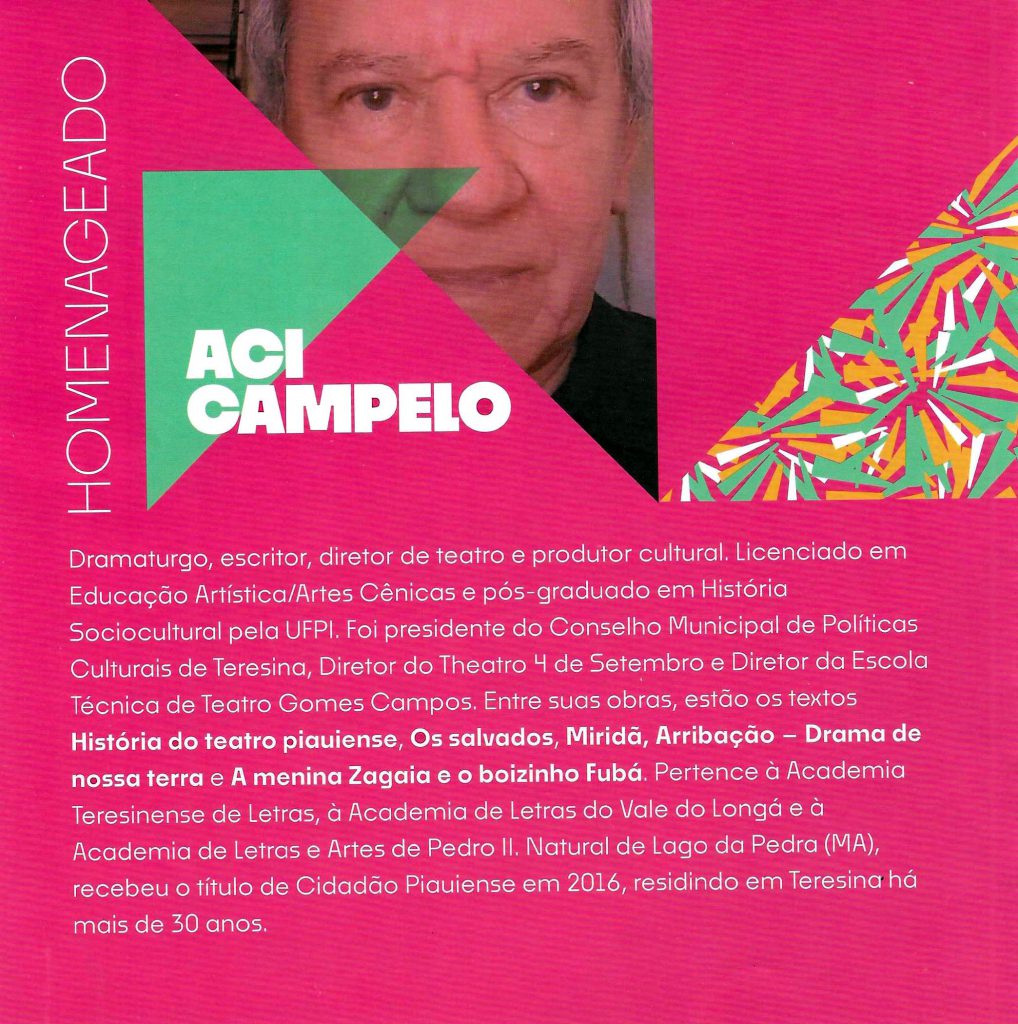
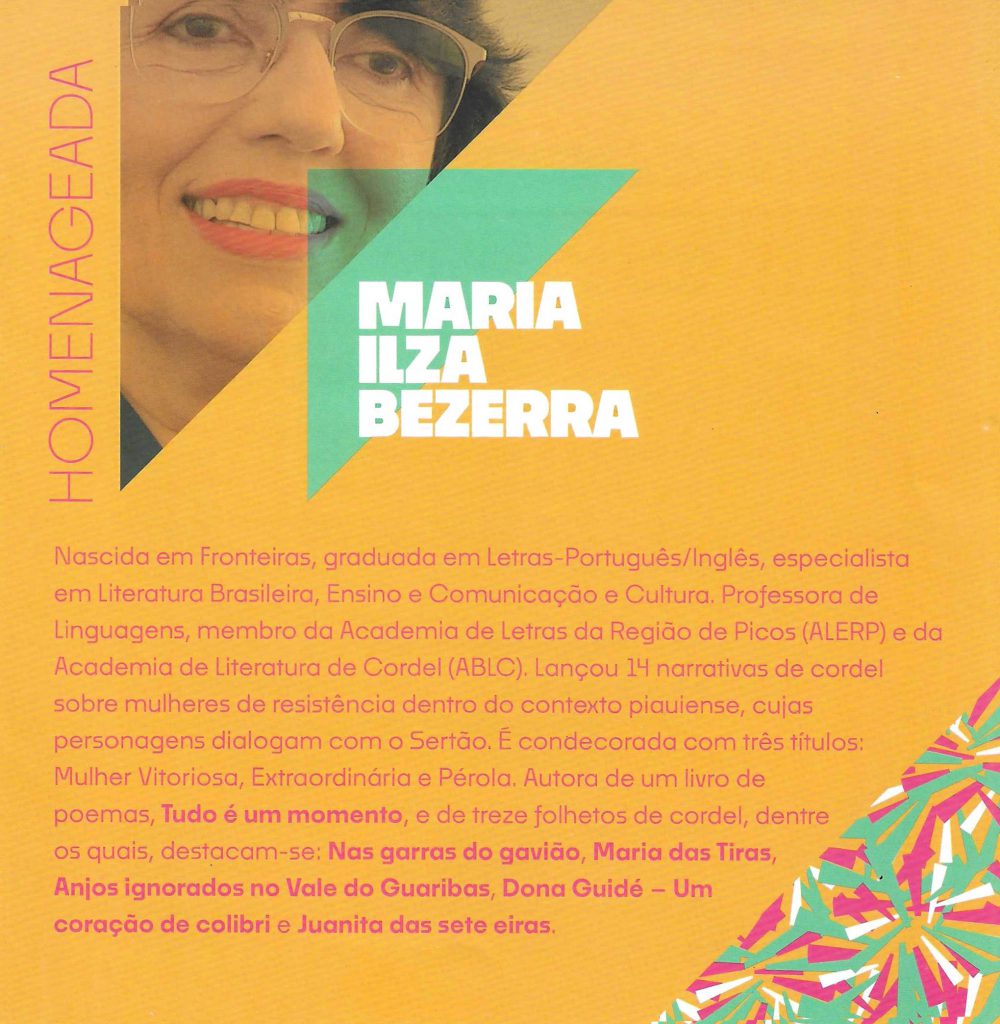







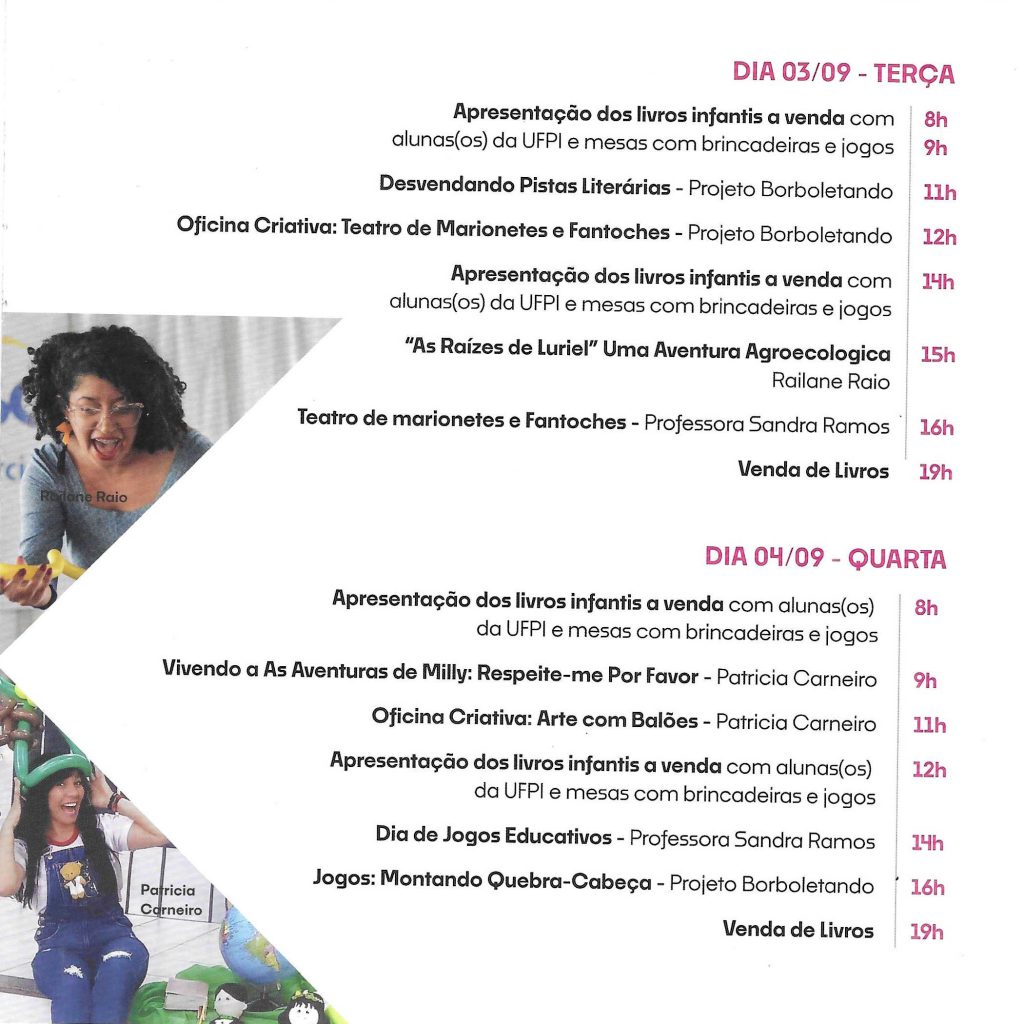

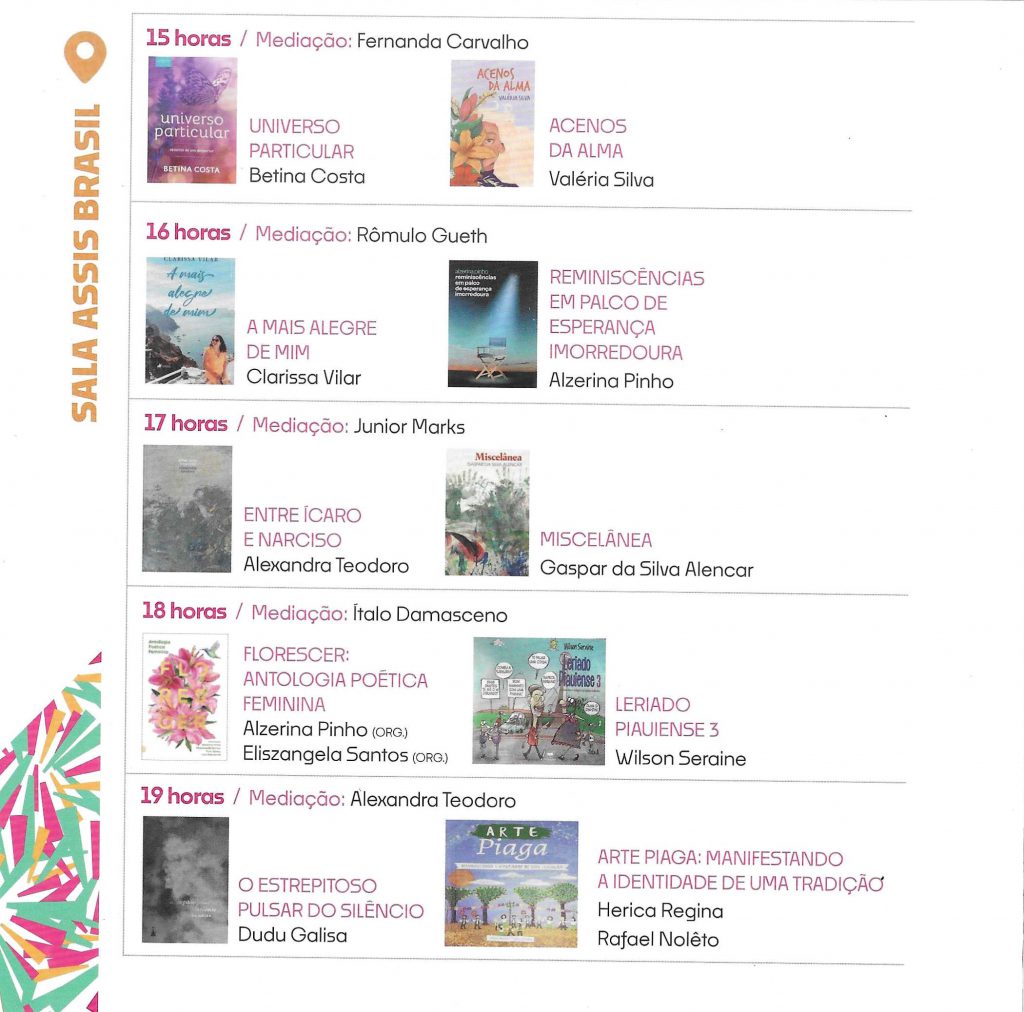






Lançamento do livro Poemas reunidos, de Climério Ferreira, editado pela Fundação Quixote, ocorrido no dia 29 de janeiro de 2025, na Livraria Anchieta, Teresina.






Bate-papo sobre os livros Exames Aletórios de Imagem (poemas) e O Dia Escuro (contos), com Laís Romero, ocorrido no dia 30 de janeiro de 2025, na Livraria Entrelivros, Teresina. Fotos: Adriano Lobão Aragão.






____________________
Sumário
Exordio: Entre a vida e a morte. O silogismo do poeta: Viver é lutar. Ora, a poesia é a vida. Logo, refletir deve todos os aspectos da vida e as condições mesmas em que vive o poeta. O objeto da conferência.
1. No Piauí, a literatura vive. E, sendo humana vida, impulsionada é pela “vis poetica”, como todas as outras literaturas; mas ali, em gráu superlativo, de notavel prevalencia. A “Revista da Academia Piauiense de Letras” e a “Historia da Literatura Piauiense”. Panorama literário de uma das mais novas provincias brasileiras. O vale do Parnaíba – paraíso terreal – berço de poetas. Os fatores do seu poetismo: a terra, o clima, o homem e suas ocupações, a memoria dos ancestrais bandeirantes, os manes dos primeiros poetas locais e a propria poesia original, espontanea, dos cantadores do sertão. Poetas que partem e os que ficam. A nota da liberdade e da independencia.
2. O rio como fator físico de grande influencia na poesia, em geral. Os precursores piauienses: Leonardo e o poema da “Creação Universal”. Coriolano e as “Impressões e Gemidos”. Os seguidores: Teodoro e a “Harpa do Caçador”. Herminio e a “Lira Sertaneja”. Clodoaldo e Alcides Freitas, Da Costa e Silva e outros modernos cantores dos rios piauienses.
3. Da Costa, o primus inter pares. Jonas da Silva, o secundus só por cantar menos o Piauí. O seu estro universal. Outros, em comprovação da mesma tese: João e Celso Pinheiro. Receita para a cura dos “doloristas”. Os cantores de Teresina, Lucidio Freitas e Ney da Silva.
4. Influencia da importação baudelairiana. Causas intimas da inspiração doentia. Alcides – o mártir sublime.
5. Naturismo sadio e poesia confortadora, jamais desanimadora. Trovas de um poeta desconhecido. Conclusão.
[nota: manteve-se a grafia original da época]

Elio Ferreira de Souza nasceu em Floriano, Piauí, em 14 de maio de 1955.
Doutor em Letras e Pós-Doutor em Estudos Literários. Professor no Mestrado e na Graduação em Letras da Universidade Estadual do Piauí. Corda Azul do ABADA Capoeira.
Publicou os livros de poesia: Canto sem viola, 1983; Poemas de Nordeste, 1983; Poemartelos, o ciclo do ferro, 1986; O contra-lei, 1994; O contralei & outros poemas, 1997; América-negra, 2004; América negra & outros poemas afro-brasileiros, 2014.
Publicou poemas em várias antologias poéticas como Cadernos Negros 27, 29, 31, 33 e 43 (2004, 2006, 2008, 2010 e 2020); Estas flores de lascivo arabesco (2008); Baião de todos (2016) e Antologia Poética Brasil-Moçambique (2023).
Entre seus livros autorais de ensaio, destacam-se Poesia negra: Solano Trindade e Langston Hughes (2017) e Identidade e Solidariedade na Literatura do negro brasileiro: de Padre Antônio Vieira a Luiz Gama (2005). Organizou mais de uma dezena de livros de ensaios sobre literatura e cultura afrodescendente. Editou a revista Roda de Poesia & Tambores, números 1 e 2, 2010/2011.
Autor e curador do projeto Roda de Poesia & Tambores, Teresina, 2000 a 2011. Líder do Núcleo de Estudos e Pesquisas Afro – NEPA/UESPI. Coordenador do ÁFRICA BRASIL – Encontro Internacional de Literaturas, História e Culturas Afro-Brasileiras e Africanas (edições V, IV, III, II e I). Editor e organizador da Coleção ÁFRICA BRASIL, NEPA/UESPI.
Sua última obra publicada foi direcionada ao público infantil e juvenil: A rolinha e a raposa (2022).
No dia 11 de abril de 2024, Elio partiu para o mundo dos ancestrais.
MARANHÃO, Salgado. Entre cascavéis e beija-flores. Uma antologia mínima. Teresina: Fundapi, 2021.
_________________
ABOIO
Para Alcione e para João do Valle (in memoriam)
Quem olha na minha cara
já sabe de onde eu vim
pela moldura do rosto
e a pele de amendoim
só não conhece os verões
que eu trago dentro de mim.
A vida desde pequeno
sempre cavei no meu chão
da raiz da planta ao fruto
fazendo calos na mão
eu aprendi matemática
descaroçando algodão.
Carcarás, aboios, lendas,
são minha história e destino
tudo que a vida me deu
é tudo que agora ensino,
na quebrada do tambor
eu sou velho e sou menino.
_________________
SENTENÇA
faz muito tempo que eu venho
nos currais deste comício,
dando mingau de farinha
pra mesma dor que me alinha
ao lamaçal do hospício.
e quem me cansa as canelas
é que me rouba a cadeira,
eu sou quem surfa no trilho
e ainda paga passagem,
eu sou um número ímpar
só pra sobrar na contagem.
por outro lado, em meu corpo,
há uma parte que insiste,
feito um caju que apodrece
mas a castanha resiste,
eu tenho os olhos na espreita
e os bolsos cheios de pedras,
eu sou quem não se conforma
com a sentença ou desfeita,
eu sou quem bagunça a norma,
eu sou quem morre e não deita.
_________________
Capa: Antônio Amaral
Projeto gráfico: Alcides Amorim
Antologia editada em Teresina, sem circulação comercial, voltada para distribuição em escolas e bibliotecas.
Salgado Maranhão (José salgado Santos) nasceu no povoado Canabrava das Moças, município de Caxias, no estado do Maranhão; filho da camponesa Raimunda Salgado dos Santos e do comerciante Moacyr dos Santos Costa. Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1973 (tendo antes vivido em Teresina e nesta cidade iniciado sua vida literária), onde estudou Comunicação Social, na Pontifícia Universidade Católica (PUC), e Letras na Santa Úrsula (sem concluir). É poeta, jornalista, compositor (letrista) e consultor cultural. Seus primeiros poemas foram editados na antologia Ebulição da escrivatura (Civilização Brasileira, 1978). Posteriormente, publicou os seguintes livros: Aboio – ou saga do nordestino em busca da terra prometida (Corisco, 1984); Punhos da serpente (Achiamé, 1989); Palávora (7Letras, 1995); O beijo da fera (7Letras, 1996); Mural de ventos (José Olympio, 1998); Sol sanguíneo (Imago, 2002); Solo de gaveta (Sescrito, Som, 2005); A pelagem da tigra (Booklink, 2009); A cor da palavra (Imago/Fundação Biblioteca Nacional, 2010) e O mapa da tribo (7Letras, 2013). Como compositor, tem gravações e parcerias com grandes nomes da MPB, como Alcione, Elba Ramalho, Dominguinhos, Paulinho da Viola, Ivan Lins, Zizi Possi, Ney Matogrosso, Herman Torres, Elton Medeiros, Rita Ribeiro, Zé Renato, Selma Reis, Rosa Maria, Xangai, Vital Farias, Zé Américo Bastos, Moacyr Luz, Amélia Rabelo, Carlos Pitta, Gereba, Mirabô Dantas, Wagner Guimarães, Naeno e Zeca Baleiro.

Francisco de Assis Almeida Brasil nasceu em Parnaíba, Piauí, em 18 de fevereiro de 1932.
Trabalhou no Suplemento Cultural do Jornal do Brasil nos anos 1950. Também trabalhou na Tribuna da Imprensa, Diário Carioca, Diário de Notícias, Correio da Manhã, O Globo e revista O Cruzeiro.
Recebeu o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, pelo conjunto da obra, em 2004.
Escreveu verbetes para a Enciclopédia Barsa. Os verbetes escritos por Assis Brasil, como “Poesia”, aparecem com suas iniciais no final: F.A.A.B.
Faleceu em Teresina, no dia 28 de novembro de 2021, aos 92 anos de idade.
Bibliografia
Aventura no mar (Verdes mares bravios), Infanto-juvenil/Melhoramentos, São Paulo, 1955/1986.
Contos do cotidiano triste, Contos/Universitária, Rio de Janeiro, 1955.
Faulkner e a técnica do romance, Ensaio/Leitura, Rio de Janeiro, 1964.
Beira rio beira vida, Romance/O Cruzeiro, Rio de Janeiro, 1965.
A filha do meio-quilo, Romance/O Cruzeiro, Rio de Janeiro, 1966.
Cinema e literatura, Ensaio/Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, 1967.
O salto do cavalo cobridor (O Caboclo e a Cigana), Romance/O Cruzeiro, Rio de Janeiro, 1968.
Pacamão, Romance, Bloch Editores, Rio de Janeiro, 1969.
Graciliano Ramos, Ensaio, Organizações Simões, Rio de Janeiro, 1969.
Adonias Filho, Ensaio, Organizações Simões, Rio de Janeiro, 1969.
Guimarães Rosa, Ensaio, Organizações Simões, Rio de Janeiro, 1969.
Clarice Lispector, Ensaio, Organizações Simões, Rio de Janeiro, 1969.
O Livro de Judas, Novela, Clube do Livro/Atual Editora, São Paulo, 1986.
Ulisses, o sacrifício dos mortos, Novela, Livros do Mundo Inteiro, Rio de Janeiro, 1970.
Carlos Drummond de Andrade, Ensaio, Livros do Mundo Inteiro, Rio de Janeiro, 1971.
Joyce, o romance com forma, Ensaio, Livros do Mundo Inteiro, Rio de Janeiro, 1971.
A nova literatura (O romance), Ensaio, Companhia Editora Americana, 1973.
A volta do herói, Novela, Expressão e Cultura, Rio de Janeiro, 1974.
Os que bebem com os cães, Romance, Nórdica, Rio de Janeiro, 1975.
A rebelião dos órfãos, Novela, Artenova, Rio de Janeiro, 1975.
Tiúbe, a mestiça, Novela, Atual Editora, São Paulo, 1975/1986.
A vida não é real, Contos, Clube do Livro, São Paulo, 1975.
A nova literatura (A poesia), Ensaio, Companhia Editora Americana, 1975.
A nova literatura (O conto), Ensaio, Companhia Editora Americana, 1975.
A nova literatura (A crítica), Ensaio, Companhia Editora Americana, 1975.
O aprendizado da morte, Romance, Nórdica, Rio de Janeiro, 1976.
O modernismo, Ensaio, Companhia Editora Americana, 1976.
Deus, o Sol, Shakespeare, Romance, Nórdica, Rio de Janeiro, 1978.
Redação e criação, Didático, Nórdica, Rio de Janeiro, 1978.
Dicionário prático de literatura brasileira, Paradidático, Ediouro, Rio de Janeiro, 1978.
Tetralogia piauiense, reunindo Beira rio beira vida, A filha do meio-quilo, O salto do cavalo cobridor e Pacamão, Romances, Nórdica, Rio de Janeiro, 1979. [2ª edição, Fundec, Teresina, 2008]
Vocabulário técnico de literatura, Paradidático, Ediouro, Rio de Janeiro, 1979.
Os crocodilos, Nórdica, Rio de Janeiro, 1980.
O livro de ouro da literatura brasileira (400 anos de história literária), Paradidático, Ediouro, Rio de Janeiro, 1980.
Um preço pela vida (Aventuras de Gavião Vaqueiro), Infanto-juvenil, Melhoramentos/Salamandra, São Paulo/Rio de Janeiro, 1980/1990.
O primeiro amor (Aventuras de Gavião Vaqueiro), Infanto-juvenil, Melhoramentos, São Paulo, 1980.
O velho feiticeiro (Aventuras de Gavião Vaqueiro) , Infanto-juvenil, Melhoramentos, São Paulo, 1980.
O destino da carne, Romance, Nórdica, Rio de Janeiro, 1982.
A viagem da vida, reunindo O sequestro, A viagem proibida e A pena vermelha do gavião (Aventuras de Gavião Vaqueiro), Infanto-juvenil, Melhoramentos, São Paulo, 1982.
A técnica da ficção moderna, Ensaio, Nórdica, Rio de Janeiro, 1982.
Tonico e Carniça, Infanto-juvenil, Ática, São Paulo, 1982.
Mensagem às estrelas, Infanto-juvenil, Ediouro, Rio de Janeiro, 1983.
Estilos e meios de comunicação, Paradidático, Ediouro, Rio de Janeiro, 1983.
Ciclo de terror, reunindo Os que bebem como os cães, O aprendizado da morte, Deus, o Sol, Sheakespeare e Os Crocodilos, Romance, Nórdica, 1984.
Zé Carrapeta, o guia do cego, Infanto-juvenil, Ediouro, Rio de Janeiro, 1984.
O mistério de Kanitei, Infanto-juvenil, Ediouro, Rio de Janeiro, 1984.
O menino-candeeiro, Infanto-juvenil, Ediouro, Rio de Janeiro, 1984.
Dicionário do conhecimento estético, Paradidático, Ediouro, Rio de Janeiro, 1984.
Sodoma esta velha, Romance, Nórdica, Rio de Janeiro, 1985.
Os desafios de Kaíto, Infanto-juvenil, Ediouro, Rio de Janeiro, 1985.
O camelô São Joaquim, Infanto-juvenil, Atual Editora, Rio de Janeiro, 1985.
A fala da cor na dança do beija-flor, Infanto-juvenil, Companhia Editora Nacional, São Paulo, 1985.
Contatos imediatos dos besouros astronautas (O menino do futuro), Infanto-juvenil, Nórdica/Vigília, 1985/1991.
O destino é cego (Aventuras de Gavião Vaqueiro), Infanto-juvenil, Melhoramentos, São Paulo, 1986.
A primeira morte (Aventuras de Gavião Vaqueiro), Infanto-juvenil, Melhoramentos, São Paulo, 1986.
Na trilha das esmeraldas (Aventuras de Gavião Vaqueiro), Infanto-juvenil, Melhoramentos, São Paulo, 1986.
Neném-Ruço, Infanto-juvenil, Atual Editora, São Paulo, 1986.
Histórias do rio encantado, Contos, FTD, São Paulo. 1987.
O cantor prisioneiro, Infanto-juvenil, Moderna, São Paulo, 1987.
Arte e deformação (Como entender a estética moderna), Ensaio, Companhia Editora Nacional, São Paulo, 1987.
O prestígio do Diabo, Romance, Melhoramentos, São Paulo, 1988.
Pequeno pássaro com frio, Infanto-juvenil, Editora do Brasil, São Paulo, 1988.
Novas aventuras de Zé Carrapeta, Infanto-juvenil, Record, Rio de Janeiro, 1988.
Aventuras de Gavião Vaqueiro, reunindo A primeira morte e Na trilha das estrelas, Infanto-juvenil, Círculo do Livro, São Paulo, 1988.
O mistério da caverna da coruja vegetariana, Infanto-juvenil, RHJ Livros, Belo Horizonte, 1989.
Lobo Guará, meu amigo (Aventuras de Gavião Vaqueiro), Infanto-juvenil, Contexto, São Paulo, 1989.
Nassau, sangue e amor nos trópicos, Romance histórico, Rio Fundo Editora, Rio de Janeiro, 1990.
O mistério do punhal estrela (Aventuras de Gavião Vaqueiro), Infanto-juvenil, Scipione, São Paulo, 1990.
Manuel e João, dois poetas pernambucanos, Ensaio, Imago, Rio de Janeiro, 1990.
Perigo na missão Rondon (Aventuras de Gavião Vaqueiro), Infanto-juvenil, Moderna, São Paulo, 1991.
Os esqueletos do Amazonas (Aventuras de Gavião Vaqueiro), Infanto-juvenil, José Olympio, Rio de Janeiro, 1991.
Missão secreta na Transamazônica (Aventuras de Gavião Vaqueiro), Infanto-juvenil, RHJ Livros, Belo Horizonte, 1991.
Villegagnon, paixão e guerra na Guanabara, Romance histórico, Rio Fundo Editora, Rio de Janeiro, 1991.
Caminhos para a imortalidade, Ensaio, Hólon Editorial, Rio de Janeiro, 1991.
Joyce e Faulkner, o romance da vanguarda, reunindo, atualizados, Faulkner e a técnica do romance e Joyce, o romance como forma, Ensaios, Imago, Rio de Janeiro, 1992.
Vocabulário de ecologia, Paradidático, Ediouro, Rio de Janeiro, 1992.
O tesouro da cidade fantasma (Aventuras de Gavião Vaqueiro), Infanto-juvenil, Imago, Rio de Janeiro, 1992.
Tiradentes, poder oculto o livrou da forca, Romance histórico, Imago. Rio de Janeiro, 1993.
Jovita, missão trágica no Paraguai, Romance histórico, Nótyra, Rio de Janeiro, 1992.
Redação para o vestibular, Didático, Imago, Rio de Janeiro, 1994.
A caçadora do Araguaia (Aventuras de Gavião Vaqueiro), Infanto-juvenil, Salamandra, Rio de Janeiro, 1994.
O sábio e andarilho (Aventuras de Gavião Vaqueiro), Infanto-juvenil, Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1994.
Quatro Orelhas: um guerreiro craô (Aventuras de Gavião Vaqueiro), Infanto-juvenil, Ao Livro Técnico, Rio de Janeiro, 1994.
A poesia maranhense no século XX, Antologia, Imago, Rio de Janeiro, 1994.
Coração de jacaré (Aventuras de Gavião Vaqueiro), Infanto-juvenil, Salamandra, Rio de Janeiro, 1994.
Os habitantes no espelho, Infanto-juvenil, José Olympio, Rio de Janeiro, 1994.
Os nadinhas, Infanto-juvenil, Scipione, São Paulo, 1995.
A poesia piauiense no século XX, Antologia, Imago, Rio de Janeiro, 1995.
Teoria e prática da crítica literária, Ensaio, Topbooks, Rio de Janeiro, 1995.
Yakima, o menino-onça (Aventuras de Gavião Vaqueiro), Infanto-juvenil, Saraiva, Rio de Janeiro, 1995.
O segredo do galo-madrinha (Aventuras de Gavião Vaqueiro), Infanto-juvenil, Scipione, Rio de Janeiro, 1995.
Paraguaçu e Caramuru: Paixão e morte da nação Tupinambá, Romance histórico, Rio Fundo Editora, Rio de Janeiro, 1995.
A sabedoria da floresta (Aventuras de Gavião Vaqueiro), Infanto-juvenil, Scipione, Rio de Janeiro, 1995.
A poesia cearense no século XX, Antologia, Imago, Rio de Janeiro, 1996.
Os desafios do rebelde (Aventuras de Gavião Vaqueiro), Infanto-juvenil, Saraiva, Rio de Janeiro, 1996.
A poesia goiana no século XX, Antologia, Imago, Rio de Janeiro, 1997.
Jeová dentro do judaísmo e do cristianismo, Ensaio, Imago, Rio de Janeiro, 1997.
A poesia amazonense no século XX, Antologia, Imago, Rio de Janeiro, 1998.
A poesia fluminense no século XX, Antologia, Imago, Rio de Janeiro, 1998.
O sol crucificado, Novelas, Imago, Rio de Janeiro, 1998.
A poesia norte rio-grandense no século XX, Antologia, Imago, Rio de Janeiro, 1998.
Corisco, o último cavalo selvagem (Aventuras de Gavião Vaqueiro), Infanto-juvenil, Saraiva, Rio de Janeiro, 1998.
A poesia mineira no século XX, Antologia, Imago, Rio de Janeiro, 1998.
A poesia sergipana no século XX, Antologia, Imago, Rio de Janeiro, 1998.
A poesia espírito-santense no século XX, Antologia, Imago, Rio de Janeiro, 1998.
A poesia baiana no século XX, Antologia, Imago, Rio de Janeiro, 1999.
Bandeirantes, os comandos da morte, Romance histórico, Imago, Rio de Janeiro, 1999.
Edição conjunta: Paraguaçu e Caramuru/origens obscuras da Bahia e Villegagnon/paixão e guerra na Guanabara, Romances históricos, Imago, Rio de Janeiro, 1999.
Edição conjunta: Nassau, sangue e amor nos trópicos e Jovita, a Joana D’Arc brasileira, Romances históricos, Imago, Rio de Janeiro, 2000.
A vida pré-humana de Jesus – O mistério da imortalidade, Ensaio, Imago, Rio de Janeiro, 2001.
Apocalipse – A espécie terminal, Ensaio, Imago, Rio de Janeiro, 2001.
Mário Faustino: Do Piauí para o mundo, Ensaio, Jornal Meio Norte, Teresina, 2001.
Herberto Sales: Regionalismo e utopia, Ensaio, Academia Brasileira de Letras (Coleção Austregésilo de Athayde), Rio de Janeiro, 2002.
A Chave do Amor e outras histórias piauienses, Contos, Imago, Rio de Janeiro, 2007.
O Bom Ladrão da Floresta (Aventuras de Gavião Vaqueiro), infanto-juvenil, Livraria Nova Aliança Editora, Teresina, 2008.
Nemo, o peixinho filósofo, Infanto-juvenil, Livraria Nova Aliança Editora, Teresina, 2009.
Um poeta chamado Grilo, Infanto-juvenil, Livraria Nova Aliança Editora, Teresina, 2009.
A Vida não é Real, Contos reunidos, Imago Editora, Rio de Janeiro, 2009.
O Menino que vendeu sua imagem, Infanto-juvenil, Livraria Nova Aliança Editora, Teresina, 2010.
A Cura pela Vida ou a face obscura de Allan Poe, Romance, Imago, Rio de Janeiro, 2010.
Geraldo Borges
“Continuariam o romance? Isso pertencia ao futuro, que não passava, como a poesia, de uma viagem rumo ao desconhecido.”
A leitura do romance de Rogério Newton, editora Nova Aliança – No coração da noite estrelada, sim, é um romance, cujo roteiro nos leva do começo ao fim, dentro de um ritmo, se não de grande expectativa, nos conduz pelas ruas e becos de uma velha cidade, Oeiras, como se o leitor fosse levado pela mãos de um cicerone. E, além do mais, não foge da estrutura do romance moderno e contemporâneo obedecendo a maioria das funções da narrativa.
Enquanto isso a história vai se desenvolvendo através de um rápido reencontro de jovens que aproveitam uma greve nacional de estudantes para descansar em suas casas, na velha cidade de Oeiras. Aí começa o romance, que deixa transparecer claramente o seu tema.
Trata se de uma história de duas gerações que se contrapõem: a aristocracia rural decadente, tentando perpetuar os valores consagrados pelo seu poder cultural e político, transferindo os para as novas gerações. Essas, mesmo relutando aos velhos valores, não conseguem romper diretamente com a família. Existe muito de sentimental na construção psicológica dos personagens, o que caracteriza um apego quase mórbido pelas ruínas da cidade.
No romance existem alguns personagens símbolos, arquétipos de uma época, como, por exemplo, o padre reacionário, o eremita, característica bem marcante de um cidade provinciana.
Do meio para o fim do romance, após o autor já ter descrito bastante o paisagem urbana e arruinada da velha e antiga capital do Piauí, os personagens principais do romance resolvem, então, editar um jornal nanico. Para publicar suas ideias, dizer alguma coisa, mostrar que estavam vivos. Sacudir um pouco o marasmo da província. As ideias do jornal foram um achado para dar ritmo ao enredo do romance. Um fio de meada para sair de um labirinto das ruínas, e entreter os personagens principais; o romance passa a ser um romance de ideias e não mais um passeio turístico. Cada personagem ficou encarregado de um tema O romance chega ao seu apogeu a essa altura. Aí aparece uma dificuldade, dinheiro, e o jornal vai sendo protelado.
Eis que aparece um personagem poeta, de repente, já quase no fim do romance, de nome Claudio. Parece até que o romance vai recomeçar. Aparece também outra personagem chamada Paloma. Claudio e Paloma, através de algumas páginas do livro tomam conta do romance e compõem um belo conto, dando maior vibração ao romance, colocando uma nova encruzilhada ao destino dos personagens, que povoam o romance. Não sei se o significado dos nomes desses dois personagens dizem alguma coisa através do inconsciente do autor na tentativa de radicalizar a mensagem ideológica da narrativa. Mas de súbito eles aparecem e desaparecem das paginas do romance, cada um de uma forma mais violenta. Ela foi morta pela repressão por que optou pela luta armada , e ele morreu de um acidente de carro.
Finalmente a greve terminou e com ela o romance. “Sofriam com a separação e com o jornal marcado para nascer no dia em que pegariam, de volta, a estrada. Firmaram um pacto; um deles imprimiria o jornal e mandaria exemplares para cada um e para Oeiras. Não esperassem as férias. Era preciso que a cidade recebesse logo aquele biscoito fino, especialmente dedicado a ela.”(capítulo XXXIII)
A promessa do jornal simbolicamente, é o elixir do conhecimento que a nova geração de estudantes adquiriu em sua experiência, e cumpre a sua missão tentando passar para a sua comunidade, no caso especifico, a cidade de Oeiras, contribuindo para que a mesma, não mudando a sua moldura antiga, pelo menos, tenha uma nova visão do mundo. No entanto fica a pergunta. Será se o jornal sairá do primeiro número? Bom. Entre romance e realidade, há muita coisa que não sonha a nossa vã filosofia.
Publicado originalmente em: https://piauinauta.blogspot.com/2016/01/no-coracao-da-noite-estrelada.html